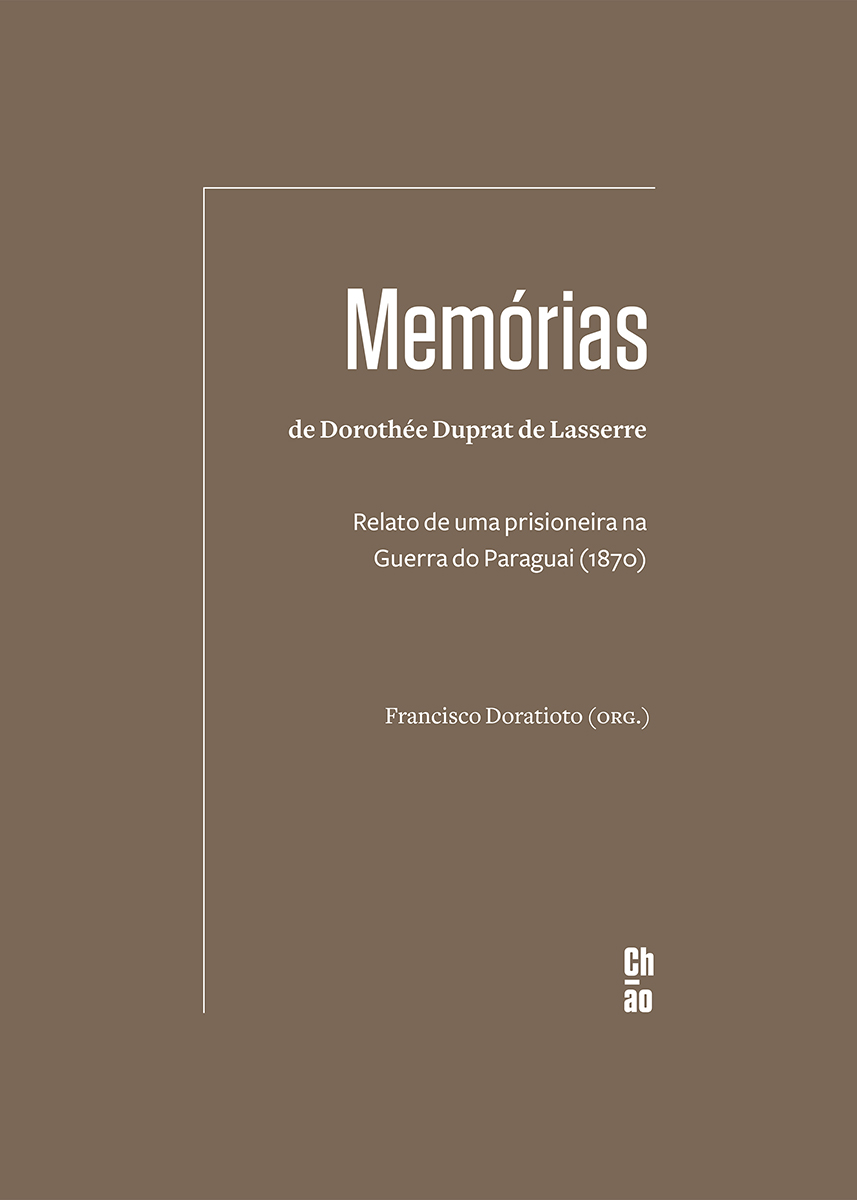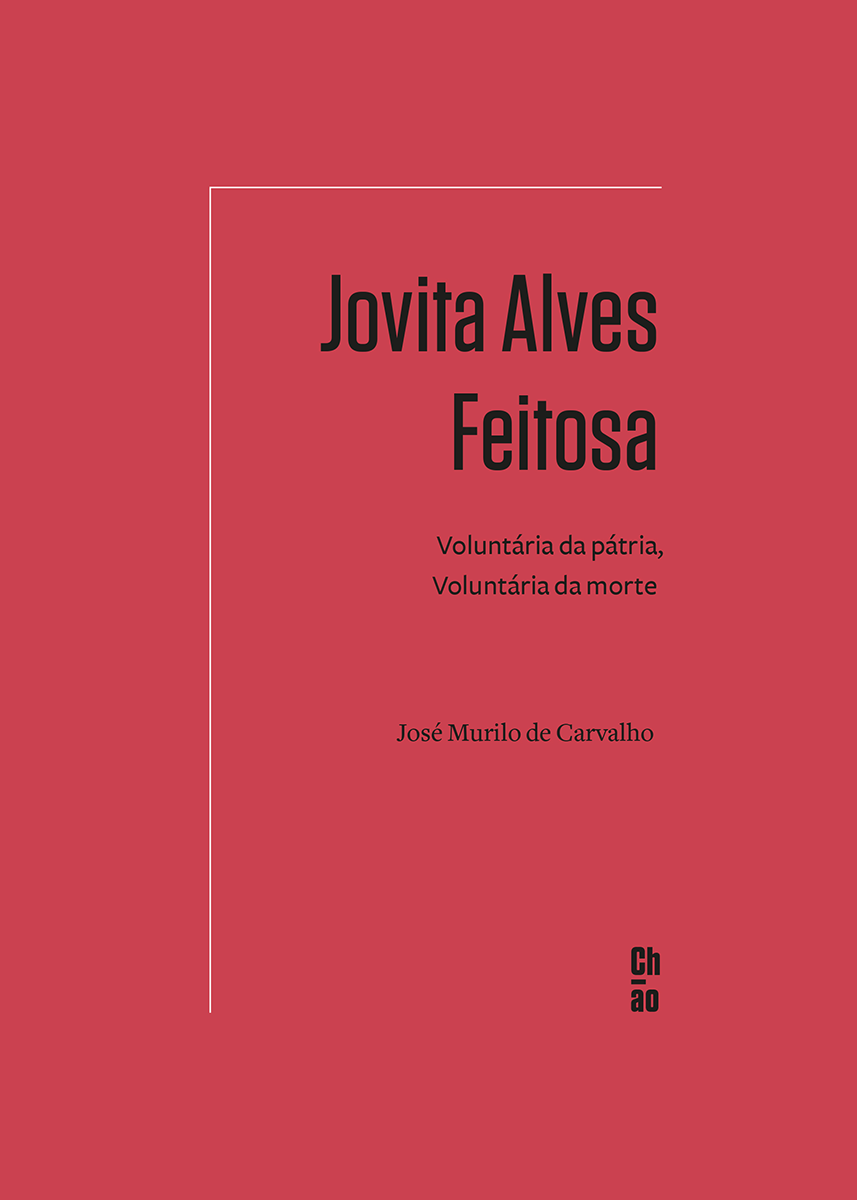Beatriz Bracher
Agora que o primeiro romance da trilogia Guerra está saindo, penso na relação deste livro com a criação da Chão Editora. E a relação da Chão com a Guerra.
Por insistência de meu pai, por volta de 2015, li o livro de memórias do visconde de Taunay, onde há descrições que me impressionaram sobre a Guerra do Paraguai. Para entender a guerra li Maldita guerra, de Francisco Doratioto. Entendi quanto essa guerra é um assunto ainda hoje complexo, como qualquer guerra, como é um assunto brasileiro e muito vivo. Li, então, o livro de memórias do Dionísio Cerqueira, que, como Taunay, foi muito jovem para a guerra e dela guardou e nos entregou descrições que nos contam muito, mas muito mais do que os combates e as marchas. Há as paisagens, o clima, os animais grandes — cavalos e bois —, pequenos — moscas e mais moscas e percevejos —, doenças, hospitais, cadáveres. Há as mulheres e os paraguaios.
Mas o que mais me prendeu ao tema foi quanto esses autores e a guerra estavam inteiros no vocabulário que usaram em suas memórias. Também a pontuação, o ritmo das frases, a concatenação dos argumentos. A liberdade e as travas que entendemos existir por aquilo que não está escrito, mas subentendido.
Esse encantamento me levou a outros livros com textos de combatentes gaúchos, maranhenses, piauienses, catarinenses, cariocas, assim como Taunay, e baianos, como Dionísio Cerqueira. E a cada leitura conhecia mais o Brasil de 1860-70, a maneira de se pensar, sentir, se relacionar com um homem, uma mulher, a relação com a paisagem e as comidas. As memórias da guerra eram um universo sem fim de mundos brasileiros.
Em 2016, meu pai teve a ideia de publicar uma edição fac-similar de um livro de registros de operações comerciais ocorridas principalmente em Piracicaba (sp), entre 1850 e 1854. Muito provavelmente relacionadas a um armazém de secos e molhados. Esse livro foi achado na Fazenda do Pinhal junto com outros documentos que meu pai estava tentando organizar com a ajuda de pesquisadores que lá trabalhavam. Para ajudar a preparar o livro, chamei a experiente editora Marta Garcia.
Uma vez publicado o livro, Marta propôs a meu pai e a mim a criação de uma pequena editora que publicasse apenas documentos históricos. Documentos variados e sem necessariamente serem parte da grande história, mas que revelassem brasileiros e o Brasil dos séculos passados com um frescor impossível aos livros de história.
Meu pai estava encantado com o tesouro que achara de documentos, na maior parte das vezes biográficos, de seus antepassados, proprietários primeiros da Fazenda do Pinhal. Eu ia pelo mesmo caminho, mas com documentos de jovens combatentes da Guerra do Paraguai. A proposta de Marta pareceu-nos a coisa mais natural do mundo de ser feita. Conversamos, ajustamos as características da nova editora, seus objetivos, critérios, o projeto gráfico (sóbrio e com letra grande, pediu meu pai) — e faltava o nome. Passamos por muitos, inclusive “chão”. Mas foi preciso passar por muitos outros para voltar a ele, Chão.
O nome Chão veio de alguns lugares, o primeiro deles do verso de Gilberto Gil, “De onde é que vem o baião?/ Vem debaixo do barro do chão”. O verbo está no presente, o baião continua a vir debaixo do barro do chão. Cada um de nós, me parecia então, lendo os textos dos combatentes no final do século xix, é constituído pela infinidade de coisas que aconteceram antes de nós. E continua a ser a cada minuto que vivemos. E a nossa história e a nossa História, aquilo que é diferente de nós, aquilo que é o que é escrito sobre nós, vêm, e continuam a vir, do que é deixado por escrito. Os documentos são o chão sempre renovado a partir do qual nossa História é escrita.
A Chão foi fundada e meu pai, tristemente, morreu poucos meses antes da publicação do primeiro livro da editora. A Chão cresceu e vem publicando livros de documentos de fontes bem diversas. Diário de fazendeiras, processo por práticas religiosas africanas contra uma senhora ex-escravizada, cartas de viajantes ingleses e franceses no Brasil, memórias sobre a primeira colônia judaica instalada no Brasil, relato de uma disputa de poder na sucessão do comando de uma irmandade religiosa de homens negros, um romance do século xix sobre a crueldade de um jovem fazendeiro branco com uma jovem escravizada, história em quadrinhos, de meados do século xix, sobre um caipira na Corte do Rio de Janeiro.
Por volta de 2020, depois de ler os muitos textos escritos por combatentes da guerra, de separar fragmentos seus e tentar contar uma história com eles, tentar criar um personagem, misturando os fragmentos com minhas palavras, forçá-los a entrar em uma história minha, entendi que não era nada disso. A força da história estava nas palavras deles, a própria história eram aquelas palavras, pontos, vírgulas e parágrafos por vezes colocados em lugares estranhos. A força era o chão sendo chão. Não havia o que levantar. A história seria contada por eles, minha ausência é o que uniria os fragmentos.
Acompanhar a Chão, ler seus textos, me fez entender melhor o que estamos fazendo, e o que eu estava fazendo em meu livro. Nem sei se “entender” é o verbo certo, talvez “sentir”. Estamos encontrando vida e trazendo-a à tona, nua, sem a mediação da História. Por isso a importância de os textos dos pesquisadores virem após os documentos, para que o documento se mostre em toda a sua estranheza e integridade. A Chão me trouxe essa certeza de que estamos lidando com a escrita e que a escrita não são os homens e mulheres que as escreveram, mas a escrita os contém, os guarda. A escrita que está nos documentos é o que quem escreveu escolheu ser, dadas as circunstâncias em que escreveu. E essas circunstâncias e escolhas trazem uma imensidão de informações que não ilustram nada, que são existências daquilo que, sem sabermos, compõe a nossa vida.