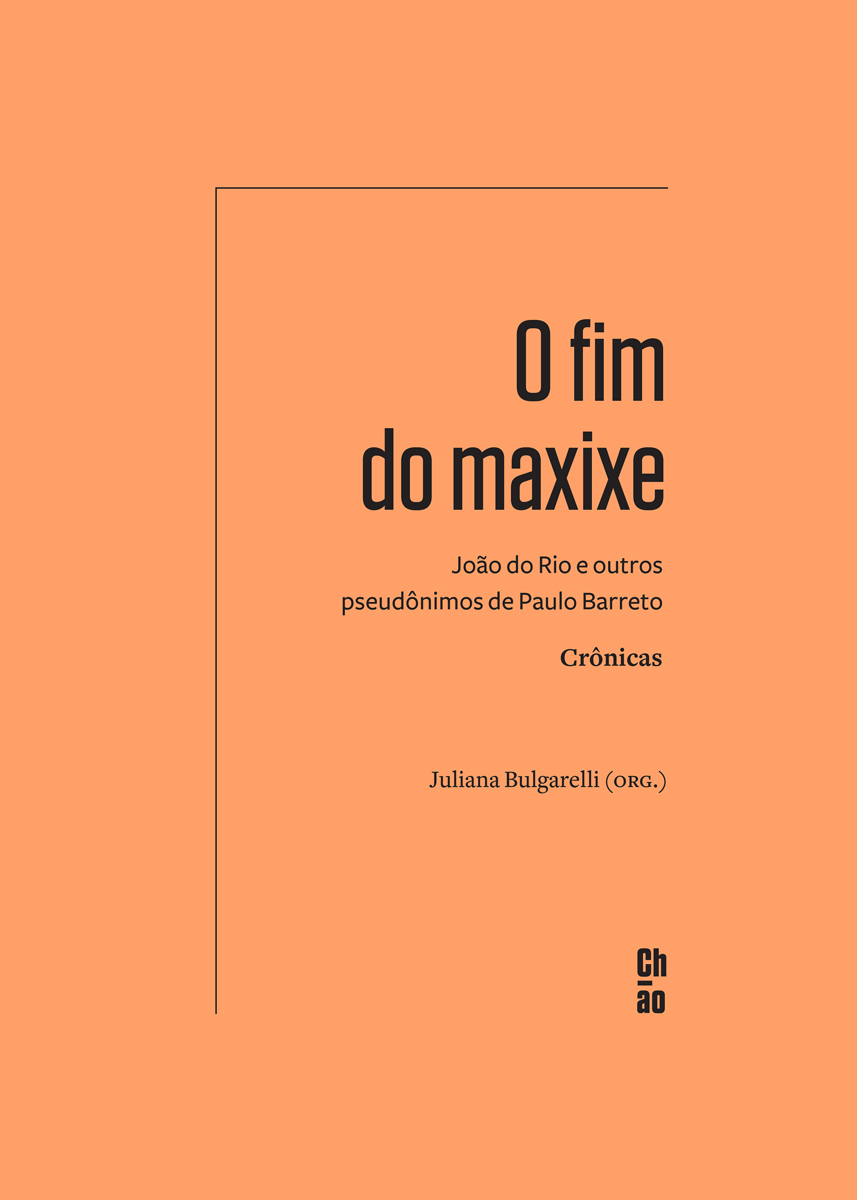Juliana Bulgarelli*
Com a normatização das horas de trabalho no início do século xx, criou-se, também, a noção de “tempo livre”, momento de descanso e de descontração fora do cotidiano exaustivo do trabalho. Surgiram novas práticas de lazer e diversão. Até o século xix, o tempo do camponês, do artesão e do operário era poroso, permeado por imprevistos, sujeito a interrupções fortuitas ou recreativas. Esse tempo mais flexível e relativamente menos acelerado, ocupado por atividades muitas vezes inespecíficas, foi pouco a pouco substituído por um tempo calculado, determinado pela eficácia e pela produtividade. Esse tempo mensurável, que poderia ser perdido, desperdiçado, recuperado, aproveitado, foi o responsável pela reivindicação da autonomia do tempo disponível. Esse “tempo livre” se transformou em um tempo social, criador de novas relações e portador de novos valores.
Na sociedade brasileira do período, esse tempo livre foi interpretado de maneira diferente pelos diversos grupos sociais presentes nas cidades. Em um contexto de valorização do trabalho, de vigilância e de imposição de regras, a criação de espaços de lazer foi pensada, sobretudo, em proveito de certos grupos. Esses grupos passaram a associar os momentos de descanso e de diversão à necessidade de cuidado com o corpo e a alma, e ao desejo de retorno à natureza. Foram então inauguradas novas práticas, como o uso da praia e dos banhos de mar, a frequentação de estações termais, cafés e restaurantes, a participação em festas, a prática de esportes e a realização de viagens. Quase todos esses espaços e momentos de lazer estão representados nos textos de Paulo Barreto.
A crônica “Os banhos de mar”, publicada em dezembro de 1903 e assinada pelo pseudônimo x., discorre sobre a nova moda de frequentar a praia. O texto evoca um dos aspectos mais admiráveis dos meses de verão, tão “inclementes, mas belíssimos”: a agitação das praias durante as primeiras horas da manhã. Da praia do Caju até Copacabana, a faixa litorânea do Rio de Janeiro era coberta por uma multidão que conversava animadamente. De acordo com x., a grande maioria dos banhistas tinha medo do mar ou não gostava de nadar, mas todos saíam da cama de manhã bem cedo, os homens de camisa e bermuda, somente para flanar à beira-mar. Esse novo espaço de lazer e sociabilidade estava também associado à distinção social. Antes disso, até a metade do século xix, as praias brasileiras eram utilizadas somente como depósito de resíduos urbanos ou como lugar de pesca e de coleta de mariscos. No período das reformas urbanas, no entanto, os jovens começaram a frequentá-las, apropriando-se delas como espaços de lazer. Rapidamente, a beira-mar transformou-se em lugar de convívio onde eram praticados determinados rituais de interação, e onde se seguiam códigos de vestimenta e comportamento.
[…]
Essa utilização “civilizada” da praia era corroborada ainda pelos discursos médicos que legitimavam novas práticas de lazer. O retorno à natureza e os banhos de mar eram prescritos como terapia para a cura do corpo e da alma. Em consequência, a prática foi incorporada ao modelo de experiência corporal burguesa. Estudos científicos propunham que o corpo deveria ser educado. Somente por meio dessa educação os indivíduos seriam capazes de controlar seus sentidos e formar uma consciência moral adequada. Mulheres e crianças eram os principais alvos da medicina, preocupada em organizar e controlar suas energias corporais. […]
De acordo com os discursos médicos, também era aconselhável desfrutar do clima das montanhas, fazer caminhadas e todos os tipos de passeio ao ar livre. Em crônica publicada em setembro de 1903, x. faz uma dura crítica à sociedade brasileira, que muitas vezes ainda preferia “a pasmaceira da janela”, e tinha a “profunda ojeriza […] aos jardins, aos parques, ao passeio, à rua, ao movimento”. Na tentativa de encorajar a população a sair de casa e a experimentar os novos espaços de sociabilidade da cidade, x. descreve os jardins públicos como “muito verdes, muito perfumados” e convida toda a população “a um passeio higiênico, a um banho de sol e de ar puro, a um exercício muscular tonificante e agradável”.
Em 31 de outubro de 1906, João do Rio relata aos leitores da Gazeta de Notícias sua primeira experiência na cidade termal de Poços de Caldas, a “cidade de águas”, outro espaço de lazer criado para o proveito das elites. Procurando, inicialmente, a cura por meio das águas e suas “propriedades minerais”, rapidamente ele percebe que todos que ali se encontram compartilham um mesmo interesse: “a roleta, santa Roleta”. Mesmo o personagem narrador, que se considera um homem sério, que até então tratava a roleta com indiferença e desprezo, se rende à gentileza e à delicadeza dos “croupiers”, à possibilidade de ganho fácil e à elegância e beleza de senhores e senhoras que apostavam enormes somas de dinheiro. Em um texto repleto de ironias, João do Rio nos revela que, em todas as estações hidrotermais do Brasil, o objetivo da grande maioria dos hóspedes não era a cura, e sim as emoções provocadas pelos cassinos.
O cronista apresenta os primórdios da indústria de entretenimento, orientada para o deleite e o lazer de certos grupos sociais. A jogatina não era considerada perniciosa, mas um hábito civilizado, um “bom lazer”. Contrariamente ao que vemos na crônica “Diálogo no bond”, em relação ao jogo do bicho. Prática mais comum entre a população pobre, o bicho era considerado inimigo do trabalhador honesto, promotor do vício e da promiscuidade social. No texto, há uma aparente crítica ao jogo, naquilo que um dos personagens acredita ser um “pensamento correto” em relação às apostas, e ao papel repressor da polícia, resultando em submissão e obediência da população. Contudo, ao fazer uma aposta logo após chegar ao seu destino, o outro personagem nos revela que à postura de obediência se opunha, muitas vezes, uma atitude de resistência. Mesmo sabendo que o ato de contrariar as autoridades e as novas regras era crime grave e passível de punição, o personagem resiste, conservando seus antigos hábitos e sua independência.
(*) Trecho do posfácio a O fim do maxixe: João do Rio e outros pseudônimos de Paulo Barreto